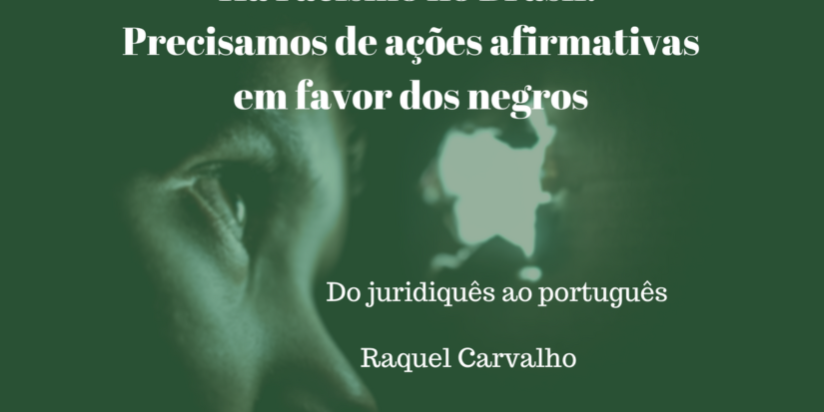Nos últimos dois dias, uma menina negra teve seus cabelos alisados contra vontade. Um portal de notícias anunciou uma manchete racista com o nome de um ator. O racismo também veio dos comentários de um youtuber. Mais um torcedor foi chamado de macaco. E nem fiquei sabendo pelos jornais ou portais da internet. Inserindo artigos jurídicos em redes sociais, as notícias sucederam-se na tela do celular: reproduções dos perfis famosos como os da Taís (Araújo), da Astrid (apresentadora), da Mônica (Iozzi), depoimentos emocionantes no direct (como o da Brenda, da Friends) e posts e vídeos e textos… Não sei para vocês. Mas esses fatos, que se repetem, me parecem prova suficiente de que:
1) o racismo é uma fratura na sociedade brasileira;
2) temos clara a base fática para a adoção de ações afirmativas que busquem a efetiva inclusão dos negros no mercado de trabalho, no ensino superior e nos diversos espaços públicos e privados;
3) enquanto não enfrentarmos esse desafio, tornar concreta a ideia de coletividade será tarefa quase impossível e, sem ela, pouca esperança resta a esse país corroído por tantos erros e cada vez mais rachado em lados que sequer conseguem dialogar.
À obviedade, sei que muitos pensam de forma diversa. E busco respeitar a divergência. Apesar da facilidade, inerente ao magistério, de aceitar pontos de vista opostos, essa é uma matéria que exige esforço dobrado. De cara, saio perdendo, absolutamente convencida que me mantenho do absurdo da exclusão dos negros e, mais, do quão soa ridículo negar essa realidade.
Em todas oportunidades em que falo ou escrevo sobre o assunto, destaco que não sou negra; aliás, muito pelo contrário, sou bem branca e de olhos verdes. Não pretendo, eis que impossível, tratar do assunto como se sentisse a dor do sujeito que, num corpo negro, é vítima de discriminação. Em contrapartida, deixo bem claro que não estou presa na pele branca com que nasci e ela jamais impediu que eu sentisse empatia, nem que reconhecesse o outro e sofresse, junto dele, por algo tão absurdo como uma inconsciente e não assumida “hierarquia de raças”.
O “lugar da fala” para tratar desse tema há de ser, cada vez mais, do próprio negro. De certo modo, uma mulher branca conseguir escrever, publicar, ter audiência, dar aula de pós-graduação, dar palestras em Congressos e ser mais ouvida do que um negro sobre um tema que pertine à raça negra, é, sim, risco de desvalorização de um discurso (o da raça negra), com valorização do outro (pelo simples fato de o autor ser branco). Por outro lado, ainda não conheço um só administrativista negro no país, que possa, hoje, escrever e gritar o absurdo do chamado “ideal de brancura” subliminar no inconsciente coletivo e até mesmo na Administração Pública, espaço ainda de perpetuação de privilégios e exclusões indevidas. Então, tal como sempre faço e já vi outros colegas fazerem (parabéns Gianmarco pelo livro!), cá estou eu a escrever sobre o absurdo da subalternidade do negro e a necessidade de inclusão efetiva.
Escrevi, escrevo e escreverei; já disse, falo e gritarei quantas vezes forem necessárias: somos todos parte de uma mesma existência e não é lícito permanecer atolados em escolhas excludentes do passado, criminosas visto que amparadas na distinção incompreensível pela cor da pele. A humanização social é destino a ser conquistado, de forma organizada, corajosa, refletida e embasada, mediante uma decisão de que não haja mais donos e servos, senhores e subalternos, dominantes e excluídos, reconhecida como intolerável servidão tão injusta como é a que resulta da cor.
Em outros artigos publicados em revistas jurídicas, já explicitei que uma ação afirmativa é cabível diante de preconceitos ilícitos pré-existentes ou de discriminações negativas incontornáveis, de forma a evitar uma exclusão desarrazoada em dada situação. Ou seja, é preciso adotar medidas positivas que equalizem o acesso às oportunidades e tornem efetivas igualdade material e dignidade da pessoa humana, quando há uma exclusão fática incompatível com as premissas do Estado Democrático de Direito. Analisar a presença, ou não, dessas condições em cada realidade é matéria que exorbita a Ciência Jurídica e que exige do pesquisador o enfrentamento de questões históricas, econômicas, sociológicas e de outras ciências mediante o manuseio de conceitos que variam da estatística e da história até a biologia e a sociologia.
Enfrentando o desafio estatístico de mensurar, na realidade brasileira, a presença da exclusão racial, temos que o Atlas da Violência de 2017 (estudo feito pelo IPEA junto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública) nos conta que, a cada 100 vítimas de homicídio no Brasil, 71 são negras. Em 2015, dos quase 10 milhões de desempregados acima de 16 anos, 5,8 milhões eram de negros. Enquanto o homicídio de mulheres brancas entre 2003 e 2013 caiu 9,8%, os homicídios das mulheres negras cresceram em 54,2%, segundo o Mapa da Violência de 2015. Esses são poucos, das dezenas de dados estatísticos que nos esfregam na cara, o “racismo nosso de todo dia”.
Apesar disso, o instituto das ações afirmativas enfrenta, no Brasil, questionamentos e críticas que se radicalizam quando se trata da questão racial. A própria dificuldade de identificar o preconceito em face dos negros e o desafio de tecnicamente o mensurar alimentam divergências desde o cabimento da discriminação positiva até os critérios inclusivos selecionados. De fato, a miscigenação que é parte da história do país implicou em um modelo de exclusão diverso do que acontece em países como os Estados Unidos. O preconceito aqui é disfarçado pela ilusão de um paraíso racial, com uma ampla convivência pacífica, sem que se fale de segregação espacial ou de outra natureza pelas diferenças entre as cores da pele. Assim, há quem nem admita existir discriminação de raça no Brasil, o que, por si só, torna fundamental tratar das crenças racistas ainda imperceptíveis em nossa sociedade.
Num contexto de ambiguidade e de recusa quanto à própria existência do preconceito em desfavor dos negros, lembro que à luz da isonomia substancial é manifesto ser intolerável que pessoas negras ainda sejam excluídas, em pleno século XXI, de direitos fundamentais como acesso à educação, inclusão no mercado de trabalho, sendo induvidoso o preconceito social que, mesmo quando não expresso de modo claro, lhe impõem limites, direta ou indiretamente. Quando me perguntam se não acho absurdos os “benefícios dados aos negros” que buscam assegurar “igualdade de oportunidades de saída”, insisto que não. Esse tipo de equalização (que não são privilégios) tem por objetivo afastar um “status quo” discriminatório e começar a transformação inclusiva desejada. Sim. É só o começo. Precisamos muito mais. Cá de mim, defendo igualdade de oportunidades não somente “na saída”, mas também “na chegada”. Ou seja, não acho suficiente reserva de vagas em universidades (igualdade de oportunidades na saída da formação educacional superior, mediante política de quotas). Defendo a reserva de vagas em estágio, em concursos públicos e nas diversas formas de acesso ao mercado (igualdade de oportunidades na chegada ao mercado de trabalho). Não se trata de paternalismo, mas de reconhecer o resultado de fatos históricos e de escolhas atuais, de não se satisfazer com resultados formais e critérios abstratos insuficientes, além de corajosamente implantar, sujeito a aperfeiçoamentos constantes, sistema que busca a efetiva democratização e igualdade entre brasileiros. E isso significa incluir os até então excluídos (ou para cuja inclusão, até agora, foi preciso um esforço hercúleo ou simples acaso ou muita sorte), que o façamos e logo. E se isso significar perda de privilégios – porque sim, nós brancos temos privilégios que sequer percebemos – que assim aconteça e logo. Passou da hora que entendermos a importância de dividirmos os espaços: nas universidades, no Estado, na sociedade e onde mais for possível.
Aderirmos todos a esse desafio, brancos e negros, é fundamental para que haja, além de uma resposta justa, a reconstrução necessária para concretizar um novo jeito de agir e de ser coletivamente. Aliás, se não conseguirmos esse convencimento, desconfio que de nada adiantará decidir adotar ações afirmativas, mediante a instituição de regras como as já veiculadas em Lei Federal nº 12.990/2014 e Portaria 4/2018 do MPOG. Desenvolver a capacidade de realizar o que está prescrito em normas do sistema jurídico requer adesão ao projeto de inclusão racial.
Precisamos passar do discurso formal para uma democracia efetiva. Menos blá blá blá e mais técnica que possa se realizar por estruturas ainda contaminadas pela tentação de perpetuar a discriminação. Que os mecanismos hoje disponíveis superem a tal “barreira invisível” que impede a redistribuição do poder e que possamos romper com o silêncio, inclusive dos juristas, em tratar do preconceito de raça. Que estejamos dispostos a analisar dados estatísticos, a falar das tragédias que seguem vitimando mais negros do que brancos, em todas as classes sociais, de todo o país. Precisamos assumir a existência do racismo e o desafio de o superar, enfim. Se nos últimos tempos, passamos a falar mais sobre isso, agora é hora de todos conhecermos, identificarmos e nomearmos essa realidade. Haverá divergências e contraditas. Tudo bem. Sem isso, dificilmente é possível evoluir e crescer em conjunto. O que não é admissível é seguir tratando a questão como algo desimportante na identidade coletiva ou negar o conflito de ideias, a dificuldade das providências necessárias e a excessiva demanda de mudanças represada. Dificilmente dá para superar uma dor que lateja na sociedade, mesmo negada há séculos. Sem dar realmente os primeiros passos para superar essa fratura, é improvável que se possa realizar qualquer procedimento dialético que cause transformação concreta no mundo.
Não se iludam. Para reduzir o poder excludente é preciso um movimento de reivindicação, de reconhecimento da voz de denúncia, de reflexão, de discussão e de mudança presente em ações diversas. Por vezes, as denúncias explodem violentamente. Às vezes, é o direito que faz essa transformação a qual a sociedade não conseguiu absorver, nem logrou implantar como nova realidade. Aos professores de Direito Administrativo, nos cabe fazer a parte doutrinária. Nas próximas semanas, além de um artigo em que as principais controvérsias jurídicas sobre ação afirmativa racial serão apresentadas e discutidas, o tema será tratado em mais uma turma de pós-graduação, com alunos diversos. A prosa está aberta nos comentários. Afinal, a construção é sempre coletiva, por mais difícil que isso seja. Exatamente por ser difícil, lembro as regras da boa prosa mineira: esforcem-se para “ouvir” e tentem ser educados ao “falar”; comportem-se como se estivessem frente a frente, conversando com um amigo com quem têm certa cerimônia.
O convite que sempre repito é: tente alforriar, transitoriamente, o pensamento dos pré-conceitos que herdamos e repetimos, escravizados, de modo tantas vezes irrefletido. A convocação é para que cada um, de modo responsável e comprometido, reflita sobre os muitos argumentos e aspectos dessa realidade e, ao final, se permita reformular (ou reafirmar) as próprias convicções. Liberdade e igualdade reais requerem o esforço de escape da colonização automática de ideias e decisão de conquista diária, realizada passo a passo. Que não estejamos imunes às infinitas possibilidades que superar a naturalização da exclusão nos traz. Que nos deixemos seduzir pela potência que explode quando incorporamos, de modo efetivo, a diversidade. E que possamos sempre repetir, infinitamente, o processo revolucionário da integração. Em matéria de copa, o desafio é ganhar no quesito igualdade: essa a taça que a gente sonha merecer. Pela primeira vez. Muito antes do hexa.